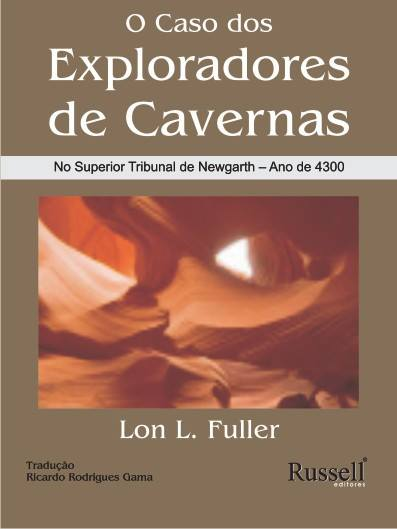15/02/2018
Keen, J.: Eu gostaria de começar deixando de lado duas questões que não são da competência deste Tribunal. A primeira delas consiste em saber-se se a clemência executiva deveria ser concedida aos réus, caso a condenação seja confirmada. Esta é, porém, segundo o nosso sistema constitucional, uma questão da competência do chefe do Poder Executivo e não nossa. Desaprovo, portanto, aquela passagem do voto do presidente deste Tribunal em que ele efetivamente dá instruções ao chefe do Poder Executivo acerca do que deveria fazer neste caso e sugere alguns inconvenientes que adviriam se tais instruções não fossem atendidas. Isto é uma confusão de funções governamentais — uma confusão em que o judiciário deveria ser o último a incorrer.
Desejo esclarecer que se eu fosse o chefe do Poder Executivo iria mais longe no sentido da clemência do que aquilo que lhe foi solicitado. Eu concederia a estes homens perdão total, pois creio que eles já sofreram o suficiente para pagar por qualquer delito que possam ter cometido. Quero que seja entendido que esta observação é feita na minha condição privada, como cidadão que, em razão de seu ofício, adquiriu um íntimo conhecimento dos fatos deste caso. No cumprimento dos meus deveres como juiz não me incumbe dirigir instruções ao chefe do Poder Executivo, nem tomar em consideração o que ele possa ou não fazer, a fim de chegar à minha própria decisão que deverá ser inteiramente guiada pela lei desta Commonwealth.
A segunda questão que desejo deixar de lado diz respeito a decidir se o que estes homens fizeram foi “justo” ou “injusto”, “mau” ou “bom”. Esta é outra questão irrelevante ao cumprimento de minha função, pois, como juiz, jurei aplicar não minhas concepções de moralidade, mas o direito deste país. Pondo essa questão de lado, eu penso que posso também excluir, sem comentário, a primeira e mais poética porção do voto do meu colega Foster. O elemento de fantasia contido nos argumentos por ele desenvolvidos revelou-se de maneira flagrante na tentativa um tanto solene do meu colega Tatting de encará-los seriamente. A única questão que se nos apresenta para ser decidida consiste em saber se os réus, dentro do significado do N.C.S.A. (n.s.) § 12-A, privaram intencionalmente da vida a Roger Whetmore. O texto exato da lei é o seguinte: “Quem quer que intencionalmente prive a outrem da vida será punido com a morte”.
Devo supor que qualquer observador imparcial, que queira extrair destas palavras o seu significado natural, concederá imediatamente que os réus privaram “intencionalmente da vida a Roger Whetmore”. De onde, pois, surgem as dificuldades do caso e a necessidade de tantas páginas de discussão a respeito do que deveria ser tão óbvio? As dificuldades, qualquer que seja a forma angustiada por que se apresentem, todas convergem a uma única fonte, consistente na indistinção dos aspectos legais e dos morais do presente litígio. Para dizê-lo claramente, meus colegas não apreciam o fato de exigir a lei escrita a condenação dos acusados. Também a mim isto não causa prazer, mas, à diferença de meus colegas, eu respeito as obrigações de um cargo que requer que se deixem as predileções pessoais de lado, ao interpretar e aplicar a lei deste país.
Todavia, naturalmente, meu colega Foster não admite que ele seja motivado por uma aversão pessoal à lei escrita. Ao contrário, ele desenvolve uma linha de argumento familiar, de acordo com a qual o Tribunal pode desrespeitar o enunciado de uma lei, quando algo nela não contido, denominado seu “propósito”, pode ser empregado para justificar o resultado que o Tribunal considera adequado. Tendo em vista que se trata de uma longa controvérsia que há muito entretemos, meu colega e eu, gostaria, antes de discutir a aplicação particular deste ponto de vista aos fatos do presente litígio, de dizer algo acerca do fundo histórico deste controvertido tema, bem como de suas aplicações relativamente ao direito e ao governo em geral.
Tempo houve neste país, em que os juízes efetivamente legislaram livremente e todos nós sabemos que durante esse período algumas de nossas leis foram praticamente reelaboradas pelo Poder Judiciário. Isto ocorreu em um momento em que os princípios aceitos pela ciência política não designavam de maneira segura a hierarquia e a função dos vários poderes do Estado. Todos nós conhecemos a trágica consequência desta indistinção por intermédio da breve guerra civil que resultou do conflito entre o Poder Judiciário, de um lado, e os Poderes Executivo e Legislativo, de outro.
Não há necessidade de enumerar novamente aqui os fatores que contribuíram para esta malsinada luta pelo poder, embora seja sabido que entre eles se incluíam o caráter pouco representativo da Câmara, resultante de uma divisão do país em distritos eleitorais que não mais correspondiam à real distribuição da população, bem como à forte personalidade e à vasta popularidade daquele que era então o presidente do Tribunal. É suficiente observar que aqueles dias passaram e que, em lugar da incerteza que então reinava, nós agora temos um princípio bem determinado consistente na supremacia do ramo legislativo do nosso governo. Desse princípio decorre a obrigação do Poder Judiciário de aplicar fielmente a lei escrita e de interpretá-la de acordo com seu significado evidente, sem referência a nossos desejos pessoais ou a nossas concepções individuais da justiça.
Não me cabe indagar se o princípio que proíbe a revisão judicial das leis é certo ou errado, desejado ou indesejado; observo simplesmente que este princípio tornou-se uma premissa tácita subjacente a toda ordem jurídica que jurei aplicar. No entanto, embora o princípio da supremacia do Poder Legislativo tenha sido aceito em teoria durante séculos, tão grande é a tenacidade da tradição profissional e da força dos hábitos de pensamento estabelecidos, que muitos juízes ainda não se adaptaram ao papel restrito que a nova ordem lhes impõe. Meu colega Foster pertence a este grupo; sua maneira de lidar com as leis é exatamente aquela de um juiz vivendo no século quarenta.
Nós estamos familiarizados com o processo segundo o qual se realiza a reforma dos dispositivos legais que desagradam aos juízes. Qualquer um que tenha seguido os votos escritos do ministro Foster terá oportunidade de ver sua utilização em qualquer setor do direito. Pessoalmente, estou tão habituado com o processo que, se meu colega se encontrasse eventualmente impedido, estou certo de que poderia escrever um voto satisfatório em seu lugar sem qualquer sugestão sua, bastando conhecer se lhe agradaria ou não o efeito da lei a ser aplicada ao caso em questão.
O processo de revisão requer três etapas. A primeira delas consiste em adivinhar algum “propósito” único ao qual serve a lei, embora nenhuma lei em uma centena tenha um propósito único e embora os objetivos de quase todas as leis sejam diferentemente interpretados pelos diferentes grupos nelas interessados. A segunda etapa consiste em descobrir que um ser mítico chamado “o legislador”, na busca deste ‘propósito’ imaginado, omitiu algo ou deixou alguma lacuna ou imperfeição em seu trabalho. Segue-se a parte final e mais reconfortante da tarefa — a de preencher a lacuna assim criada. Quod erat faciendum (o necessário).
A inclinação de meu colega Foster para encontrar lacunas nas leis faz lembrar a história, narrada por um antigo autor, de um homem que comeu um par de sapatos. Quando lhe perguntaram se os havia apreciado, ele replicou que preferira os buracos. Não é outro o sentimento de meu colega com respeito às leis; quanto mais buracos (lacunas) elas tenham, mais ele as aprecia. Em resumo, não lhe agradam as leis.
Não se poderia desejar um caso melhor para ilustrar a natureza ilusória deste processo de preenchimento de lacunas do que aquele ora pendente de julgamento. Meu colega pensa que sabe exatamente o que se buscou ao declarar-se o assassinato um crime. Segundo ele, seria algo que se denomina “prevenção”. Meu colega Tatting já mostrou quanto é omissa esta interpretação. Mas penso que a dificuldade jaz mais profundamente. Duvido muito que nossa lei, qualificando o assassinato como crime, tenha realmente um “propósito” em qualquer sentido ordinário desta palavra.
Antes de tudo, tal lei reflete uma convicção humana profundamente arraigada, segundo a qual o assassinato é injusto e que algo deve ser feito ao homem que o comete. Se nós fôssemos forçados a ser mais explícitos acerca do problema, provavelmente nos refugiaríamos nas mais sofisticadas teorias dos criminologistas, as quais, por certo, não se encontravam na mente dos nossos legisladores. Nós poderíamos também observar que os homens executariam seu trabalho de maneira mais eficaz e viveriam mais felizes se fossem protegidos contra a ameaça de agressão violenta.
Tendo em mente que as vítimas de homicídios são frequentemente pessoas desagradáveis, nós poderíamos ajuntar a sugestão de que a eliminação de pessoas indesejáveis não deva ser uma função apropriada à iniciativa privada, mas, ao revés, constituir um monopólio estatal. Tudo isto me lembra de um advogado que, certa ocasião, argumentou perante este Tribunal que uma lei sobre o exercício da medicina era uma boa coisa porque levaria à diminuição dos prêmios de seguro de vida, eis que elevaria o nível geral de saúde.
Há quem pretenda que o óbvio deve ser explicado. Se nós não sabemos o propósito do § 12A, como podemos dizer que haja uma lacuna nele? Como podemos nós saber o que pensaram seus elaboradores acerca da questão de matar homens para comê-los?
Meu colega Tatting revelou uma repulsão compreensível, embora talvez um tanto exagerada, relativamente ao canibalismo. Como podemos nós saber que seus remotos antepassados não sentiram a mesma repulsa em um grau mais elevado? Os antropólogos afirmam que o temor sentido em relação a um ato proibido pode crescer quando as condições de vida tribal criam tentações especiais à sua prática: é o que ocorre com o incesto, que é mais severamente condenado entre aqueles cujas relações comunitárias o tornam mais provável.
Certamente, o período subsequente à Grande Espiral trazia consigo implícitas tentações à antropofagia. Talvez fosse em virtude disso que nossos antepassados expressaram essa proibição de forma tão larga e irrestrita. Tudo isto é, por certo, conjetura, mas fica suficientemente claro que nem eu nem meu colega Foster sabemos qual seja o propósito do § 12-A.
Considerações similares às que acabei de delinear são também aplicáveis à excludente da legítima defesa que desempenha um papel tão importante no raciocínio dos colegas Foster e Tatting. É, sem dúvida, verdade que em Commonwealth x Parry um ponto de vista expresso incidentalmente, sem força de precedente, justificou esta exceção, presumindo-se que o propósito da legislação penal é a prevenção. Também pode ser verdade que se tenha ensinado a várias gerações de estudantes que a verdadeira explicação da excludente reside na circunstância segundo a qual um homem que atua em legítima defesa não age “intencionalmente”, e que os mesmos estudantes tenham sido considerados habilitados ao exercício da advocacia repetindo o que os seus professores lhes ensinaram.
Naturalmente, pude rejeitar estas últimas observações como irrelevantes pela simples razão que os professores e examinadores ainda não tem delegação de poderes para elaborar nossas leis. Mas, insisto, o problema real é mais profundo. Tanto no que se refere à lei, como no que respeita à exceção, a questão não está no suposto propósito da lei, mas no seu alcance.
No que concerne à extensão da legítima defesa, tal como tem sido aplicada por este Tribunal, a situação é clara: ela se aplica aos casos de resistência a uma ameaça agressiva à própria vida de uma pessoa. É, portanto, bastante claro que este caso não se situa no âmbito da exceção, posto que é evidente que Whetmore não fez nenhuma ameaça contra a vida dos réus. O caráter essencialmente ardiloso da tentativa do meu colega Foster de encobrir sua reformulação da lei escrita com uma aparência de legitimidade mostra-se tragicamente no voto de meu colega Tatting. Neste, o juiz Tatting debate-se ardorosamente para combinar o vago moralismo de seu colega com seu próprio sentimento de fidelidade à lei escrita. O resultado desta luta não podia ser outro senão o que ocorreu — um completo fracasso no desempenho da função judicial. É de todo impossível ao juiz aplicar uma lei tal como está redigida e, simultaneamente, refazê-la em consonância com seus desejos pessoais.
Bem sei que a linha de raciocínio que terminei de expor neste voto não será aceitável por aqueles que cogitam tão somente dos efeitos imediatos de uma decisão e ignoram as implicações que poderão advir no futuro em consequência de assumir o judiciário o poder de criar exceções à aplicação da lei. Uma decisão rigorosa nunca é popular.
Juízes têm sido exaltados na literatura por seus ardilosos subterfúgios destinados a privar um litigante de seus direitos nos casos em que a opinião pública julgava errado fazê-los prevalecer. Mas eu acredito que a exceção ao cumprimento das leis, levada a efeito pelo Poder Judiciário, faz mais mal em longo prazo do que as decisões rigorosas. As sentenças severas podem até mesmo ter certo valor moral, fazendo com que o povo sinta a responsabilidade em face da lei, que, em última análise, é sua própria criação, bem como relembrando-lhe que não há nenhum princípio de perdão pessoal que possa mitigar os erros de seus representantes.
Na verdade, irei mais longe e direi que os princípios por mim expostos são os melhores para as nossas condições atuais; e, mais, que nós teríamos herdado um melhor sistema jurídico dos nossos antepassados se estes princípios tivessem sido observados desde o início. Por exemplo, com respeito à excludente da legítima defesa, se nossos tribunais tivessem permanecido firmes na letra da lei, o resultado teria sido, sem dúvida alguma, a sua revisão legislativa. Tal revisão teria suscitado a colaboração de cientistas e psicólogos, e a regulamentação da matéria, daí resultante, teria tido um fundamento compreensível e racional, em vez da miscelânea de verbalismos e distinções metafísicas que emergiram de seu tratamento judicial e acadêmico.
Essas conclusões finais estão, por certo, além dos deveres que devo cumprir relativamente a este caso, mas as enuncio porque sinto de modo profundo que meus colegas estão muito pouco conscientes dos perigos implícitos nas concepções sobre a magistratura defendidas pelo meu colega Foster. Minha conclusão é de que se deve confirmar a sentença condenatória. (…)