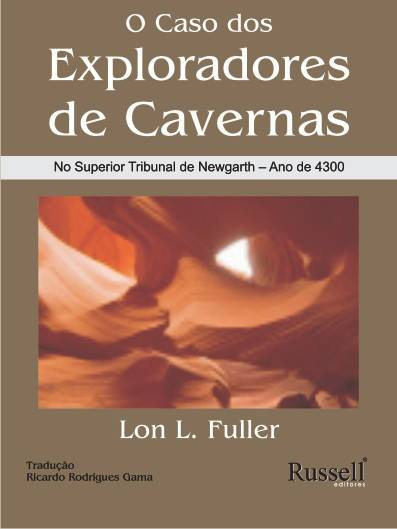16/02/2018
Handy, J.: Ouvi com estupefação os angustiados raciocínios que este caso trouxe à tona. Nunca deixo de admirar a habilidade com que meus colegas lançam uma obscura cortina de legalismos sobre qualquer problema que lhes seja apresentado para decidir. Nesta tarde, ouvimos arrazoados sobre as distinções entre direito positivo e direito natural, a letra e o propósito da lei, funções judiciais e executivas, legislação oriunda do judiciário e do legislativo. Minha única decepção foi que ninguém levantou a questão da natureza jurídica do contrato celebrado na caverna — se era unilateral ou bilateral, e se não se poderia considerar que Whetmore revogou a sua anuência antes que se tivesse atuado com fundamento nela.
O que é que todas essas coisas têm a ver com o caso? O problema que temos que decidir é o que nós, como funcionários públicos, devemos fazer com esses acusados.
Esta é uma questão de sabedoria prática a ser exercida em um contexto, não de teoria abstrata, mas de realidades humanas. Quando o caso é examinado sob essa luz, torna-se, segundo me parece, um dos mais fáceis de decidir dentre os que já foram arguidos perante este Tribunal.
Antes de enunciar minhas próprias conclusões acerca do mérito, eu gostaria de discutir brevemente alguns dos problemas essenciais que o litígio traz à tona — questões sobre as quais meus colegas e eu temos estado divididos desde que me tornei juiz.
Nunca fui capaz de convencê-los de que o governo é um assunto humano, e que os homens são governados não por palavras sobre o papel ou por teorias abstratas, mas por outros homens. Eles são bem governados quando seus governantes compreendem os sentimentos e concepções do povo. E são mal governados quando não existe esta compreensão.
De todos os ramos do governo, é o Judiciário o que tem maiores possibilidades de perder o contato com o homem comum. As razões para isto são, naturalmente, bastante óbvias. Ao passo que as massas reagem diante de uma situação conforme ela se apresenta em seus traços mais salientes, nós juízes dividimos em pequenos fragmentos cada situação que nos é apresentada.
Juristas são contratados pelos antagonistas a fim de analisar e dissecar. Juízes e advogados rivalizam em ver quem é capaz de descobrir o maior número de dificuldades e distinções em um só conjunto de fatos. Cada litigante tenta encontrar casos reais ou imaginários, que irão causar embaraço às demonstrações do lado oposto. Para escapar a esta dificuldade, ainda outras distinções são inventadas e introduzidas na situação.
Quando um conjunto de fatos é exposto a tal espécie de tratamento por um tempo suficiente, toda sua vida e essência tê-lo-á abandonado, dele não restando senão um punhado de poeira. Percebo que, sem dúvida alguma, sempre que haja regras e princípios abstratos, os juristas poderão fazer distinções.
Até certo ponto, esta espécie de coisas que estou descrevendo é um mal necessário, ligado a qualquer regulação formal dos negócios humanos. Todavia, penso que a área que realmente necessita de tal regulação é grandemente superestimada. Há, naturalmente, algumas regras de jogo fundamentais que devem ser aceitas como condição de existência do próprio jogo. Eu incluiria entre elas aquelas relativas à regulação das eleições, à nomeação de funcionários públicos e ao tempo de exercício nos respectivos cargos. Nestas matérias, eu concedo que seja essencial certa restrição na discrição e na possibilidade de excepcionar, certa adesão à forma, certo escrúpulo quanto ao que cai e o que não cai na esfera de incidência da norma. Mas, fora destes domínios, acredito que todos os funcionários públicos, inclusive os juízes, cumpririam melhor seus deveres se considerassem as formalidades e os conceitos abstratos como instrumentos.
Penso que deveríamos tomar como nosso modelo o bom administrador, que adapta os métodos e princípios ao caso concreto, selecionando dentre os meios de que dispõe os mais adequados à obtenção do resultado colimado. A mais óbvia vantagem deste método de governo é que ele nos permite cumprir nossas tarefas diárias com eficiência e senso comum. Minha adesão a esta filosofia tem, entretanto, raízes mais profundas. Creio que apenas com o discernimento que ela propicia podemos preservar a flexibilidade essencial se quisermos manter nossas ações em uma conformidade razoável com os sentimentos daqueles que se acham submetidos à nossa autoridade.
Mais governos soçobraram e mais miséria humana foi causada pela ausência deste acordo entre governantes e governados do que por qualquer outro fator que se possa discernir na história. Desde o momento em que se introduz uma cunha entre a massa do povo e aqueles que dirigem sua vida jurídica, política e econômica, a sociedade é destruída. Então nem a lei da natureza de Foster, nem a fidelidade à lei escrita de Keen, não servirão de mais nada.
Aplicando estas concepções ao caso sub judice, sua decisão se torna, conforme referi, bastante fácil. A fim de demonstrar isso terei que divulgar certas realidades que meus colegas, como pudico decoro, julgaram adequado omitir, ainda que delas tenham tanta consciência quanto eu próprio. A primeira delas é que este caso despertou um enorme interesse público tanto no país quanto no exterior. Quase todos os jornais e revistas publicaram artigos a seu respeito; colunistas partilharam com seus leitores informações confidenciais referentes ao próximo passo do Poder Executivo; centenas de cartas aos editores foram publicadas. Uma das grandes cadeias de jornais fez uma sondagem de opinião pública acerca da questão — “que pensa você que a Suprema Corte deveria fazer com os exploradores de cavernas?” Cerca de noventa por cento expressaram a opinião de que os acusados deveriam ser perdoados ou deixados em liberdade, com uma espécie de pena simbólica. Portanto, é perfeitamente claro o sentimento da opinião pública frente ao caso.
Aliás, poderíamos tê-lo sabido sem a sondagem, com base no senso comum ou mesmo observando que neste Tribunal há manifestamente quatro homens e meio, ou seja noventa por cento, que partilham da opinião comum. Isto torna óbvio não somente o que deveríamos, mas o que devemos fazer, se desejarmos preservar entre nós e a opinião pública uma harmonia razoável e decente.
O fato de declararmos estes homens inocentes não nos envolve em nenhum subterfúgio ou ardil pouco digno. Tampouco é necessário qualquer princípio de interpretação legal que não esteja de acordo com o modo de proceder deste Tribunal. Certamente, nenhuma pessoa leiga pensaria que, absolvendo estes homens, nós tivéssemos desvirtuado a lei mais do que nossos predecessores o fizeram quando criaram a excludente da legítima defesa. Se uma demonstração mais detalhada do método seguido para harmonizar nossa decisão com o dispositivo legal fosse julgada necessária, contertar-me-ia em fixar-me nos argumentos desenvolvidos na segunda e menos fantasiosa parte do voto do meu colega Foster.
Estou convicto de que meus colegas se horrorizarão por eu ter sugerido que este Tribunal leve em conta a opinião pública. Eles dirão que a opinião pública é emocional e caprichosa; que se baseia em meias-verdades e que ouve testemunhas que não estão sujeitas a novo interrogatório. Eles dirão ainda que a lei cerca o julgamento de um caso como este de cuidadosas garantias, destinadas a assegurar que a verdade será conhecida e que qualquer consideração racional referente às possíveis soluções do caso será tomada em consideração.
Advertirão que todas estas garantias de nada servem se for permitido que a opinião pública, formada fora deste quadro, tenha qualquer influência na decisão. Mas detenhamo-nos imparcialmente em algumas das realidades da aplicação da nossa lei penal.
Quando um homem é acusado de ter cometido um crime há, de maneira geral, quatro modos segundo os quais ele pode escapar da punição. Um deles consiste na decisão do juiz, de acordo com a lei aplicável, de que ele não cometeu nenhum crime. Esta é, por certo, uma decisão que tem lugar em uma atmosfera bastante formal e abstrata. Mas consideremos os outros três modos segundo os quais ele pode escapar da punição. Estes são: (I) uma decisão do Representante do Ministério Público não solicitando a instauração do processo; (II) uma absolvição pelo júri; (III) um indulto ou comutação da pena pelo Poder Executivo.
Pode alguém pretender que estas decisões sejam tomadas dentro de uma estrutura formal, rígida, de regras que impeçam o erro de fato, excluam fatores emocionais e pessoais e garantam que todas as formalidades legais serão observadas? É verdade que no caso do júri procuramos restringir suas deliberações ao âmbito daquilo que é juridicamente relevante, mas não nos podemos iludir acreditando que esta tentativa seja realmente bem-sucedida.
Normalmente, o caso de que ora nos ocupamos deveria ter sido julgado pelo júri sob todos os seus aspectos. Se isto tivesse ocorrido, podemos estar certos, de que teria havido uma absolvição ou pelo menos uma divisão que teria impedido uma condenação. Se se tivesse dado instruções ao júri no sentido de que a fome dos réus e o convênio que firmaram não constituem defesa à acusação de homicídio, seu veredicto as teria quase que certamente ignorado, torcendo a letra da lei mais do que qualquer um de nós seria tentado a fazer. É evidente que a única razão que impediu que isto sucedesse foi a circunstância fortuita de ser o porta-voz do júri um advogado. Seus conhecimentos capacitaram-no a imaginar uma fórmula verbal que permitisse ao júri furtar-se de suas usuais responsabilidades.
Meu colega Tatting expressa contrariedade por não ter o Representante do Ministério Público decidido o caso por si, abstendo-se de requerer a instauração do processo. Estrito como é no cumprimento das exigências da teoria jurídica, ficaria satisfeito em ver o destino destes homens decidido fora do Tribunal pelo Representante do Ministério Público, fundado no senso comum. O presidente do Tribunal, de outro lado, desejaria que a aplicação do senso comum ficasse para o final, embora, como Tatting, não queira dele participar pessoalmente. Isto me leva à parte conclusiva de minhas observações, referente à clemência executiva.
Antes de discutir este tópico diretamente, quero fazer uma observação conexa acerca da sondagem de opinião pública. Como eu disse, noventa por cento das pessoas pretende que a Suprema Corte deixe os acusados em inteira liberdade ou que se lhes aplique uma pena meramente nominal. Os dez por cento restantes constituem um grupo de composição singular com as mais curiosas e divergentes opiniões. Um dos nossos especialistas universitários fez um estudo desse grupo e descobriu que seus membros dividem-se em padrões determinados. Uma porção substancial deles é assinante de excêntricos jornais de circulação limitada, os quais deram aos seus leitores uma versão distorcida dos fatos em causa. Alguns pensam que “espeleólogo” significa “canibal” e que a antropofagia constitui um princípio adotado pela Sociedade.
Mas, o ponto sobre o que desejo chamar a atenção é este: embora quase todas as variedades e matizes de opiniões concebíveis estivessem representadas neste grupo, não havia, tanto quanto sei, ninguém nele, nem no grupo majoritário dos noventa por cento, que dissesse: “penso que seria de bom alvitre que os tribunais condenassem estes homens à forca e que, em seguida, outro poder do Estado os absolvesse”. No entanto, esta é uma solução que de certo modo dominou nossas discussões e que o presidente deste Tribunal propõe como um caminho pelo qual nós podemos evitar de cometer uma injustiça e ao mesmo tempo preservar o respeito à lei.
Pode o senhor Presidente estar certo de que, se ele está preservando a moral de alguém, esta não é senão a sua própria, e não a do público, que nada sabe a respeito das distinções por ele empregadas. Menciono este problema porque desejo enfatizar mais uma vez o perigo de nos perdermos nos esquemas de nosso próprio pensamento e esquecer que estes esquemas frequentemente não projetam a mais tênue sombra sobre o mundo exterior.
Agora chego ao ponto mais decisivo deste caso. Um ponto conhecido de todos nós neste Tribunal, embora meus colegas tenham julgado conveniente ocultá-lo sob suas togas. Trata-se da probabilidade alarmante de que, se a solução do caso for deixada ao Chefe do Poder Executivo, ele se recusará a perdoar estes homens ou comutar sua sentença.
Como todos nós sabemos, o Chefe do Poder Executivo é um homem hoje de idade avançada e de princípios muito rígidos. O clamor público normalmente produz nele um efeito contrário ao esperado. Como disse a meus colegas, acontece que a sobrinha de minha esposa é íntima amiga de sua secretária. Fui informado por esta via indireta, mas, segundo me parece, completamente fidedigna, que ele está firmemente determinado a não comutar a sentença se nós julgarmos que estes homens transgrediram a lei.
Ninguém lamenta mais do que eu a necessidade de amparar-me, em um assunto tão importante, em informação que poderia ser caracterizada como falatório. Se dependesse de mim, isto não ocorreria, posto que eu adotaria a conduta sensata de reunir-me com o Executivo e examinar conjuntamente o caso, descobrindo quais são seus pontos de vista e talvez elaborando um programa comum para resolver o assunto. Entretanto, naturalmente meus colegas jamais acederiam em resolver-se o problema desta maneira. Seus escrúpulos em obter diretamente informações exatas não os impede de estarem muito perturbados com o que souberam de maneira indireta.
Seu conhecimento dos fatos que acabei de relatar explica porque o presidente deste Tribunal, normalmente um modelo de decoro, julgou conveniente agitar sua toga na face do Executivo e ameaçá-lo de excomunhão se não comutasse a sentença. Suspeito que por isso se explica a proeza de levitação, empreendida pelo meu colega Foster, pela qual toda uma biblioteca de livros jurídicos foi removida de sobre os ombros dos acusados. É o que explica igualmente porque também meu colega legalista Keen imitou Pooh-bah na comédia antiga, caminhando até o outro lado do palco para dirigir algumas observações ao Poder Executivo em sua “condição de cidadão privado” (permito-me observar, incidentalmente, que o conselho do cidadão privado Keen será publicado na coletânea de jurisprudência deste Tribunal às expensas dos contribuintes).
Devo confessar que, quanto mais velho me torno, mais perplexo fico ante a recusa dos homens em aplicar o senso comum aos problemas do direito e do governo; e este caso verdadeiramente trágico aprofundou meu sentimento de desânimo e consternação a este respeito. Desejaria apenas poder convencer meus colegas da sabedoria dos princípios que tenho aplicado à função judicial desde que a assumi.
A propósito, por uma espécie de um triste fechar de um círculo, deparei-me com problemas semelhantes aos que ora aqui se esboçam, justamente no primeiro caso que julguei como juiz de primeira instância do Tribunal do condado de Fanleigh. Uma seita religiosa expulsara um sacerdote que, segundo se dizia, tinha se convertido aos princípios e práticas de uma seita rival. O sacerdote difundiu uma nota acusando os chefes da seita. Certos membros leigos dessa igreja anunciaram uma reunião pública em que se propunham explicar a posição da mesma. O sacerdote assistiu a essa reunião. Alguns afirmaram ter-se ele introduzido furtivamente, utilizando-se de um disfarce; o sacerdote declarou em seu testemunho que tinha entrado normalmente como um membro do culto. De qualquer forma, quando os discursos começaram, ele os interrompeu aludindo a certas questões respeitantes aos negócios do culto e fez algumas declarações em defesa de seus próprios pontos de vista. Foi atacado por participantes da reunião que lhe deram uma enorme surra, do que lhe resultou, dentre outros ferimentos, uma fratura na mandíbula.
O sacerdote intentou uma ação de indenização contra a associação patrocinadora da reunião e dez indivíduos que alegava terem sido seus agressores. Quando chegamos à fase de julgamento, o caso pareceu-me, a princípio, muito complicado. Os advogados levantaram múltiplos problemas legais. Havia difíceis questões concernentes à admissão da prova e relativamente à demanda contra a Associação, alguns problemas girando em torno da questão de saber-se se o sacerdote havia se insinuado ilicitamente na reunião ou se havia recebido autorização para dela participar.
Como noviço na magistratura, sentia-me impaciente por aplicar meus conhecimentos adquiridos na Faculdade, e logo comecei a estudar estas questões atentamente, lendo todas as fontes mais autorizadas e preparando considerandos bem fundamentados. À medida que estudava o caso envolvia-me progressivamente mais em suas perplexidades jurídicas, tendo chegado a aproximar-me de um estado semelhante àquele de meu colega Tatting neste caso. Subitamente, porém, percebi claramente que todas estas intrincadas questões realmente nada tinham a ver com a questão, e comecei a examiná-la à luz do senso comum. Imediatamente, o litígio ganhou uma nova perspectiva e dei-me conta de que a única coisa que me incumbia fazer era absolver os acusados por falta de provas.
Cheguei a esta conclusão pelas seguintes considerações. O conflito em que o autor fora ferido tinha sido muito confuso, com algumas pessoas tentando chegar ao centro do tumulto, enquanto outras procuravam afastar-se dele; algumas golpeando o sacerdote, ao passo que outras aparentemente tentando protegê-lo. Teriam sido necessárias algumas semanas para apurar a verdade. Decidi então que nenhuma mandíbula fraturada era tão importante para a Commonwealth (os ferimentos do sacerdote, seja dito de passagem, tinham se curado neste meio tempo, sem que o desfigurassem e sem qualquer diminuição de suas faculdades normais). Ademais, convenci-me profundamente de que o autor tinha, em larga medida, dado causa ao conflito. Ele sabia quão inflamadas estavam as paixões e podia facilmente ter encontrado outro lugar para exprimir seus pontos de vista. Minha decisão foi amplamente aprovada pela imprensa e pela opinião pública, as quais não podiam tolerar as concepções e práticas que o sacerdote expulso tentava defender. Agora, depois de trinta anos, graças a um ambicioso Representante do Ministério público e a um porta-voz do júri legalista, encontro-me diante de um caso que suscita problemas que, no fundo, são muito semelhantes àqueles contidos no litígio que terminei de expor.
O mundo não parece mudar muito, mas desta vez não se trata de um julgamento por quinhentos ou seiscentos frelares e sim da vida ou morte de quatro homens que já sofreram mais tormento e humilhação do que a maioria de nós suportaria em mil anos. Concluo que os réus são inocentes da prática do crime que constitui objeto da acusação e que a sentença deva ser reformada. (…)