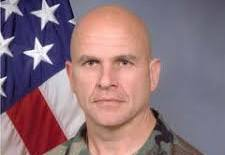
Paul Yingling
Em artigo dirigido às Forças Armadas dos Estados Unidos, um tenente-coronel do Exército americano aponta as responsabilidades pelo fracasso de seu país na guerra do Iraque: despreparo e falta de coragem moral no comando militar
Pela segunda vez no espaço de uma geração, os Estados Unidos se veem diante da perspectiva de serem derrotados por forças insurgentes. Em abril de 1975, os EUA partiram do Vietnã abandonando os nossos aliados à própria sorte, nas mãos dos comunistas norte-vietnamitas. Hoje, dadas as condições deterioradas no Iraque, as esperanças de uma vitória americana são cada vez menores.
Essas derrocadas não devem ser atribuídas a erros individuais, mas a uma crise de toda uma instituição: o corpo de oficiais-generais dos Estados Unidos da América. Os generais americanos não conseguiram preparar as nossas Forças Armadas para a guerra e tampouco souberam assessorar as autoridades civis em matéria de uso da força para a obtenção de objetivos políticos.
Quem trava as guerras não são os exércitos, são as nações. A guerra não é uma atividade militar conduzida por soldados, mas uma atividade social que envolve nações inteiras. O teórico militar prussiano Carl von Clausewitz assinalou os papéis da paixão, da probabilidade e da política num conflito armado.
Independentemente do sistema de governo, é o povo que fornece o sangue e a riqueza necessários para levar adiante uma guerra. Quando as metas políticas são pequenas, o estadista pode levar um conflito adiante sem pedir grandes sacrifícios à sociedade. Já conflitos globais, como a II Guerra Mundial, requerem a mobilização plena da população para fornecer os homens e o equipamento necessários. O maior erro que o estadista pode cometer é envolver sua nação num grande conflito sem mobilizar as paixões populares num nível proporcional ao que está em jogo no conflito.
Mas as paixões populares, sozinhas, não são suficientes. Cabe aos generais apresentar uma estimativa correta das probabilidades estratégicas da nação, tanto à opinião pública como aos formuladores das decisões políticas. Responsável por avaliar a probabilidade de sucesso do uso da força para atingir as metas políticas, é o general que descreve tanto os meios necessários para a guerra quanto as maneiras como a nação empregará esses meios. Se os dirigentes políticos desejam atingir fins para os quais fornecem meios insuficientes, é o general que deve advertir o estadista sobre tal incongruência. Se o general se cala quando o estadista compromete a nação numa guerra com meios insuficientes, cabe a ele parte da culpa pelos resultados.
A opção de ir à guerra para obter uma paz melhor é, inerentemente, um julgamento de valor em que o estadista precisa decidir sobre os interesses e crenças pelos quais vale a pena matar e morrer. Nesse sentido, o militar está tão pouco habilitado a fazer tais julgamentos quanto o cidadão comum. Portanto, deve se manifestar apenas sobre sua área de especialização – a avaliação das probabilidades estratégicas.
A correta avaliação das possibilidades estratégicas pode ser subdividida em preparação para a guerra e condução da guerra. A preparação para a guerra consiste em mobilização, armamento, equipamento e treinamento de forças. A condução da guerra consiste no planejamento do uso dessas forças e na direção dessas forças durante as operações. Segundo o historiador militar britânico Sir Michael Howard, “na estruturação e na preparação de um exército para a guerra pode-se ter certeza de que nunca se conseguirá fazer a coisa certa por inteiro. O importante é não errar demais para poder corrigir o curso em tempo hábil”.
O erro mais trágico que um general pode cometer é supor, sem muita reflexão, que as guerras do futuro serão parecidas com as guerras do passado. Depois da I Guerra Mundial, os generais franceses cometeram esse erro, supondo que a guerra seguinte envolveria batalhas estáticas dominadas pelo poder de fogo e pelas fortificações fixas. Ao longo de todo o período do entreguerras, os generais da França mobilizaram, equiparam, armaram e treinaram seus militares para disputar a guerra anterior. Enquanto isso, os generais alemães passaram os mesmos anos empenhados em quebrar o impasse. Desenvolveram uma nova forma de guerra – a Blitzkrieg – integrando mobilidade, poder de fogo e táticas descentralizadas. O Exército alemão não absorveu com precisão essa nova forma de combate – depois da conquista da Polônia em 1939, precisou passar por uma avaliação crítica de suas operações. Entretanto, os generais alemães não erraram muito, e em menos de um ano puderam adaptar suas táticas para invadir a França.
Uma vez visualizadas as condições do futuro combate, cabe ao general explicar aos dirigentes civis o que ele irá exigir e os riscos que poderão resultar caso essas demandas não sejam atendidas. Os dirigentes civis não possuem nem a especialização nem a inclinação para analisar em profundidade as probabilidades estratégicas de um futuro distante. Os dirigentes políticos, sobretudo os eleitos, têm poderosos incentivos para se concentrar em questões mais próximas das preocupações imediatas do público. Se, para dizer o que pensa, o general for esperar que a opinião pública e seus representantes eleitos manifestem preocupação com as ameaças à segurança nacional, terá esperado demais.
A coragem moral é muitas vezes inversamente proporcional à popularidade, e em nenhum ofício essa observação é mais verdadeira do que na profissão das armas. A história da inovação militar está repleta de carreiras truncadas de reformadores que viram claramente as ameaças que se aproximavam e tiveram a ousadia de defender a mudança. Um militar profissional precisa possuir tanto a coragem física de enfrentar os perigos da batalha como a coragem moral de suportar os ataques do escárnio público. Dentro ou fora do campo de batalha, a coragem é a primeira característica do generalato.
A derrota americana no Vietnã foi o fracasso mais notório da história militar americana. O corpo de oficiais-generais dos Estados Unidos se recusou a preparar o Exército para a disputa de guerras não convencionais, a despeito das amplas indicações sobre a necessidade desses preparativos. Tendo deixado de se preparar para esse tipo de guerra, os generais enviaram nossas forças ao combate sem um plano coerente de vitória. Despreparados para a guerra e desprovidos de uma estratégia coerente, os Estados Unidos perderam a guerra e as vidas de mais de 58 mil combatentes.
Depois da II Guerra Mundial, havia amplos sinais de que os inimigos dos EUA recorreriam à insurgência para contrabalançar nossas vantagens em poder de fogo e mobilidade. A experiência francesa na Indochina e na Argélia trouxe lições abundantes aos exércitos ocidentais que tivessem de enfrentar inimigos não convencionais. E essas lições não deixaram de ser percebidas pelos integrantes mais argutos da classe política americana. Em 1961, o presidente Kennedy chamou a atenção para “um tipo diferente de guerra, novo na sua intensidade, antigo na origem, travada por guerrilheiros, subversivos, insurgentes, assassinos – a guerra que prefere a emboscada ao combate aberto, a infiltração à agressão, procurando chegar à vitória evadindo-se do inimigo e esgotando suas forças, sem nunca o enfrentar abertamente”.
Apesar da experiência de seus aliados e da advertência de seu presidente, o generalato americano foi incapaz de preparar as próprias forças para a contrainsurreição. Na época, o chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA, general George Decker, garantiu ao jovem presidente: “Qualquer bom soldado é capaz de enfrentar um guerrilheiro”. Apesar da orientação de Kennedy em sentido contrário, o Exército encarava o conflito do Vietnã em termos convencionais. Enquanto o Exército fazia apenas pequenos ajustes organizacionais para atender às cobranças presidenciais, os generais se apegavam ao que o analista Andrew Krepinevich definiu como “conceito de Exército” [the Army concept], uma visão da guerra que se concentra na destruição das forças inimigas. Os militares americanos embarcaram numa estratégia de atrito gradual que visava a obrigar o Vietnã do Norte a uma paz negociada.
Os generais americanos, além de não terem conseguido formular uma estratégia para a vitória no Vietnã, também se mantiveram quase todos em silêncio enquanto a estratégia desenvolvida pelos políticos civis conduzia à derrota. Como assinala o coronel H. R. McMaster em seu livro Dereliction of Duty [Negligência no Cumprimento do Dever, 1997], os chefes de Estado-Maior se dividiram, todos aferrados à defesa da própria arma, deixando de desenvolver uma recomendação unificada e coesa capaz de ajudar o presidente a conduzir a guerra a bom termo.
O chefe do Estado-Maior do Exército, Harold K. Johnson, calculou em 1965 que a vitória demandaria 700 mil soldados por um prazo de até cinco anos. O comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, Wallace Greene, fez uma estimativa semelhante quanto ao contingente necessário. À medida que o presidente Lyndon Johnson [sucessor de John F. Kennedy] promovia a escalada da guerra, nenhum dos dois militares revelou sua opinião ao presidente do Congresso. O presidente Johnson fez um esforço deliberado para esconder do público os custos e as consequências do Vietnã, mas essa duplicidade contou com o consentimento passivo dos generais americanos.
Após ajudar a enganar o povo americano durante a guerra, o Exército optou por enganar a si próprio. Em seu livro Learning to Eat Soup With a Knife [Aprendendo a Tomar Sopa com Faca, 2002], o tenente-coronel John Nagl afirmou que, em vez de aprender com a derrota no Vietnã, o Exército americano concentrou as energias no tipo de guerras que sabia vencer – as guerras convencionais de alta tecnologia. Embora tivesse sido derrotado pouco antes por uma guerra de insurgência, o Exército reduziu dramaticamente o treinamento e os recursos dedicados à contrainsurreição.
No início da década de 1990, a concentração do Exército americano na guerra convencional pareceu ter sido premiada. Ao longo dos anos 1980, os militares americanos beneficiaram-se do mais amplo crescimento militar em tempos de paz na história do país. O equipamento de alta tecnologia aumentou dramaticamente a mobilidade e a letalidade das nossas forças terrestres. A queda do Muro de Berlim em 1989 apressou o fim da União Soviética e a futilidade do confronto direto com os EUA. Embora os EUA tenham dado apoio a insurgentes no Afeganistão, na Nicarágua e em Angola com vistas a apressar a liquidação da União Soviética, os militares americanos dedicaram pouca reflexão à contrainsurreição durante os anos 1990. Os generais supuseram, sem a devida reflexão, que as guerras futuras seriam muito parecidas com as do passado – conflitos entre Estados envolvendo forças convencionais. Em 1991, por ocasião da primeira guerra do Golfo, a rápida derrota do Exército iraquiano – quando este ainda era o quarto maior do mundo – para as tropas dos EUA parecia confirmar a sensatez das reformas promovidas pelos militares americanos depois do Vietnã. Mas as lições tiradas da Operação Tempestade do Deserto não foram adequadas. O Exército americano continuou a se preparar para a guerra anterior, enquanto seus futuros inimigos se preparavam para uma guerra de novo tipo.
Embora as forças armadas dos Estados Unidos tivessem se comprometido com uma “transformação” após a guerra do Golfo de 1991, não houve mudança significativa. As prioridades de aquisição observadas ao longo da década ainda seguiam o modelo da Guerra Fria, destinando fundos significativos a novos aviões de combate e novos sistemas de artilharia. As situações hipotéticas mais usadas para os estudos táticos, tanto nas escolas como nos centros de treinamento, ainda replicavam o conflito de alta intensidade entre Estados. Neste início de século XXI, os Estados Unidos combatem insurreições brutais e ágeis no Afeganistão e no Iraque, enquanto as nossas Forças Armadas desperdiçaram os últimos anos sem se preparar devidamente para conflitos desse tipo.
Depois de perderem toda uma década preparando-se para a guerra errada, os generais ainda erraram no cálculo tanto dos recursos quanto dos métodos necessários para a vitória no Iraque. No caso, o erro militar mais crucial foi a insuficiência de forças encarregadas de dar segurança à população iraquiana. O Comando Central dos EUA [CENTCOM] avaliou, em seu plano de guerra elaborado em 1998, que 380 mil homens seriam necessários para uma invasão do Iraque. Usando as operações na Bósnia e em Kosovo como modelo para prever as necessidades de contingente, um estudo do Exército estimava que 470 mil homens seriam necessários. Somente um dentre os generais americanos, o chefe do Estado-Maior do Exército, general Eric Shinseki, afirmou publicamente que “várias centenas de milhares de soldados” seriam necessárias para estabilizar o Iraque pós-Saddam. Antes da guerra, o presidente Bush prometeu dar aos comandantes de campo tudo o que fosse necessário para a vitória. Em particular, muitos oficiais-generais mais graduados, seja da ativa ou da reserva, manifestaram sérias dúvidas quanto à suficiência de forças para o Iraque. Mais adiante, esses líderes falariam de suas preocupações em livros reveladores, como Fiasco: A Aventura Militar Americana no Iraque e Cobra II: A História Secreta da Invasão e da Ocupação do Iraque. No entanto, quando os EUA foram à guerra no Iraque com menos da metade das forças necessárias para a vitória, esses líderes não tornaram públicas as suas objeções.
Dada a falta de tropas, nem o mais brilhante dos generais poderia ter criado os meios necessários para estabilizar o Iraque pós-Saddam. Ainda assim, o planejamento inepto para o pós-guerra em pouco tempo transformou a crise decorrente da falta de soldados num verdadeiro desastre. Em 1997, o exercício “Travessia do Deserto”, do Comando Central dos EUA, demonstrou que muitas das tarefas de estabilização no pós-guerra acabariam por se tornar responsabilidade dos militares. Os demais organismos do governo americano não tinham capacidade suficiente para executar o trabalho na escala demandada no Iraque. Apesar desses resultados, o CENTCOM aceitou a premissa de que o Departamento de Estado iria administrar o Iraque no pós-guerra. Os militares nunca explicaram ao presidente a magnitude dos desafios inerentes à estabilização do Iraque no pós-guerra.
Depois de se mostrarem incapazes de visualizar as condições de combate no Iraque, os generais não conseguiram se adaptar às demandas da contrainsurreição. A teoria da contrainsurreição exige um zelo continuado pela segurança da população. No entanto, durante a maior parte da guerra, as forças americanas no Iraque foram concentradas em imensas bases de operação, isoladas do povo iraquiano e ocupadas na captura ou morte de insurgentes. A teoria da contrainsurreição requer o fortalecimento da capacidade das instituições locais de prover segurança e outros serviços essenciais à população. Mesmo assim, os generais americanos deram atenção secundária aos esforços de se criarem equipes de transição para desenvolver forças locais de segurança e equipes de reconstrução em cada província, jamais fornecendo pessoal na quantidade ou da qualidade necessária ao êxito da empreitada.
Depois de entrar no Iraque com um número insuficiente de soldados e sem um plano coerente para a estabilização posterior à guerra, o corpo de oficiais-generais dos EUA ainda não informou a sociedade americana sobre a dimensão exata da insurreição. O Grupo de Estudos sobre o Iraque [Iraq Study Group, ISG] assinalou que, “num único dia de julho de 2006, foram registrados 93 ataques ou atos significativos de violência. No entanto, uma revisão cuidadosa dos relatórios daquele dia trouxe à luz 1.100 atos de violência. É difícil adotar as medidas corretas quando a informação é sistematicamente coletada de forma a minimizar sua discrepância em relação às metas estabelecidas”.
A segurança da população local é a medida mais importante da eficácia de uma contrainsurreição. Por mais de três anos, os generais americanos continuaram a insistir que os EUA vinham fazendo progressos no Iraque. No entanto, para os civis iraquianos, cada ano a partir de 2003 foi mais mortífero que o anterior. Por motivos que ainda não estão claros, o corpo de oficiais-generais dos EUA subestimou a força do inimigo, superestimou a capacidade do governo e das forças de segurança do Iraque e deixou de fornecer ao Congresso uma avaliação precisa das condições de segurança vigentes no Iraque. Além disso, os generais americanos não explicaram claramente os riscos estratégicos mais amplos incorridos no comprometimento de uma porção tão significativa do poderio militar móvel dos Estados Unidos num único teatro de operações.
Os erros morais e intelectuais comuns ao corpo de oficiais-generais dos Estados Unidos no Vietnã e no Iraque configuram uma crise no generalato americano. Qualquer explicação que atribua a culpa a indivíduos é insuficiente. Não foi um único líder, civil ou militar, que causou o fracasso no Vietnã ou no Iraque. Diversos líderes militares e civis ativos em ambos os conflitos produziram resultados semelhantes. Nos dois casos, o corpo de oficiais-generais encarregado de aconselhar os dirigentes políticos, preparar as forças e comandar as operações deixou de cumprir suas funções a contento. Para entender como os EUA poderiam enfrentar a derrota diante de um inimigo insurgente mais fraco, pela segunda vez no espaço de uma geração, precisamos examinar as influências estruturais que produzem o nosso corpo de
oficiais-generais.
A necessidade de oficiais-generais inteligentes, criativos e corajosos é evidente. Uma compreensão dos aspectos mais amplos da guerra é essencial ao bom general. No entanto, uma pesquisa sobre os generais de três e quatro estrelas do Exército americano mostra que apenas 25% deles possuem diplomas avançados de instituições civis em ciências sociais ou no campo das humanidades. A teoria da contrainsurreição afirma que o domínio de línguas estrangeiras é essencial ao êxito, mas apenas um em cada quatro generais do Exército dos EUA fala outra língua além do inglês. Embora a coragem física dos generais americanos não esteja em dúvida, existe menos certeza no que se refere à sua coragem moral. Numa linguagem quase surreal, militares profissionais atribuem a culpa por sua recente falta de franqueza ao estilo intimidador de atuação de seus superiores civis. Agora que o público demonstra uma preocupação mais imediata com a crise do Iraque, alguns dos nossos generais estão encontrando sua voz. Mas podem ter esperado demais.
Nem o Poder Executivo nem as próprias Forças Armadas parecem dispostos a cuidar das carências do corpo de oficiais-generais dos Estados Unidos. Na verdade, parte do problema está na tendência do Executivo a buscar colaboradores cordatos, bem adaptados ao trabalho em equipe, para operar nos centros de comando. E parte da culpa também cabe às próprias Forças Armadas. O sistema que produz os nossos generais pouco faz para premiar a criatividade e a coragem moral. Os oficiais são promovidos aos postos mais altos seguindo padrões de carreira notavelmente semelhantes. Os generais de mais alta patente, seja da ativa ou da reserva, são as figuras mais importantes para determinar o potencial de um oficial para o generalato. A opinião dos subordinados e de seus pares não tem qualquer papel na promoção de um oficial; para subir na hierarquia, basta agradar aos superiores. Num sistema em que os oficiais mais graduados optam por promover os que lhe são mais semelhantes, prevalece o estímulo à conformidade. Assim, não seria razoável esperar que, depois de passar 25 anos conformando-se às expectativas institucionais, um oficial vá emergir como agente inovador ao se aproximar dos 50 anos de idade.
Se os Estados Unidos desejam inteligência criadora e coragem moral no seu corpo de oficiais-generais, precisam criar um sistema que premie essas qualidades. O Senado jamais confirmaria um juiz indicado para a Suprema Corte que não fosse formado em direito ou que jamais houvesse emitido um parecer jurídico. No entanto, confirma regularmente generais de quatro estrelas que não possuem formação superior em ciências sociais ou humanidades nem falam uma língua estrangeira. Os oficiais-generais superiores precisam ter a capacidade de compreender culturas estrangeiras e interagir com elas. Um currículo sólido de desempenho intelectual, além da fluência em línguas estrangeiras são indicadores eficazes do potencial de um oficial para postos superiores de comando.
Para premiar a coragem moral dos nossos oficiais-generais, o Congresso precisa formular perguntas duras sobre os recursos e os métodos usados na guerra, como parte de sua responsabilidade de supervisão. Algumas das respostas serão chocantes, o que talvez explique por que o Congresso não faz essas perguntas e os generais não as respondem. Se o número de inimigos que nossas operações produzem é maior do que o número de inimigos que elas derrotam, não há quantidade de força capaz de nos fazer prevalecer.
Por fim, o Congresso precisa reforçar sua responsabilidade, ao exercer o poder de confirmar a patente dos oficiais-generais no momento da reforma. Por lei, o Congresso precisa confirmar cada oficial que é reformado com a patente de general de três ou quatro estrelas. No passado, essa foi sempre uma exigência pro forma, salvo em pouquíssimos casos. Um general responsável por um escândalo substancial relacionado aos direitos humanos, ou por uma significativa deterioração da segurança, deveria ser reformado com patente inferior à que serviu com distinção. Um general que não forneça ao Congresso uma avaliação precisa e franca das probabilidades estratégicas deveria sofrer a mesma penalidade. Da forma como as coisas vêm ocorrendo, um soldado raso que perde o seu fuzil sofre consequências muito mais graves do que um general que perde uma guerra.
Frederico, o Grande, ordenou que seus oficiais concentrassem as energias nos aspectos mais amplos da guerra. As inovações do monarca prussiano transformaram seu Exército no terror da Europa, mas ele sabia que os adversários vinham aprendendo e se adaptando. Frederico temia que seus generais dominassem o sistema de combate sem refletir profundamente sobre a natureza sempre cambiante da guerra, e com isso pusessem em risco a segurança da Prússia. E esses medos se revelaram proféticos. Na Batalha de Valmy, em 1792, os sucessores de Frederico foram detidos pelo improvisado Exército de cidadãos franceses. Nos catorze anos que se seguiram, os generais prussianos supuseram, sem muita reflexão, que as guerras do futuro seriam semelhantes às do passado. Até que, em 1806, em Jena, o Exército prussiano marchou em fileiras cerradas para a derrota e a destruição diante de Napoleão. A profecia de Frederico se cumpriu; a Prússia tornou-se vassala da França.
O Iraque é a Valmy dos Estados Unidos. Os generais americanos foram parados por uma forma de guerra para a qual não estavam preparados e que não compreendem. Entraram no Iraque supondo, sem muita reflexão, que as guerras do futuro seriam parecidas com as do passado. Os poucos que viram com clareza a nossa vulnerabilidade pouco disseram ou fizeram para nos capacitar a enfrentar esses perigos.
Como ocorreu em Valmy, esse desastre, por mais humilhante que seja, não assinala a derrocada nacional. Ainda não é tarde demais para nos prepararmos para os desafios da Longa Guerra. Ainda temos tempo de escolher para nossos generais homens dotados da inteligência de visualizar os conflitos futuros e da coragem moral de aconselhar os dirigentes civis quanto aos preparativos necessários para a nossa segurança. O poder e a responsabilidade de identificar esses generais cabem ao Congresso americano. Se o Congresso não agir, a nossa Jena nos espera. ●
Paul Yingling: tenente-coronel e subcomandante do 3º Regimento de Cavalaria Blindada do Exército Americano.
